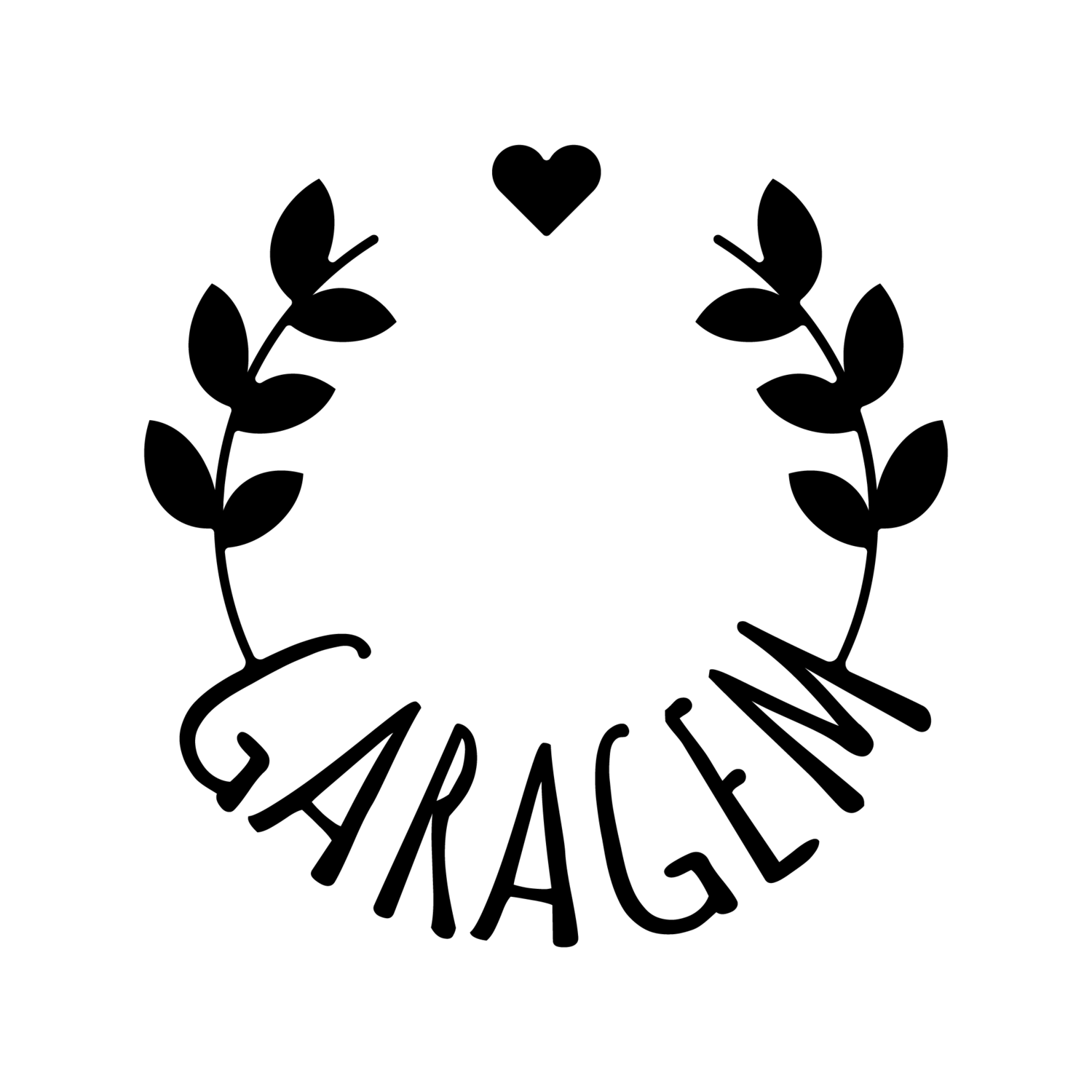Os dias esvoaçam como folhas ao vento, num dia de Outono. As mãos permanecem vazias.
Mergulho para dentro e reflicto sobre o tanto que se transformou em mim e em redor de mim. No mundo que existe para lá e alheado da minha existência. Não sei se têm a mesma sensação, mas de repente parece que o tempo acelerou, tento ancorar-me nos dias e eles fogem para longe. Olho as pessoas a meu redor, a minha família, os meus amigos, perscruto-lhes as rugas, o olhar mais cansado, as dores que principiam ou se acentuam. Estamos a envelhecer. E de repente isto é real. É muito real.
E eu sei que metade da vida é imenso, mas a parte que falta é de igual imensidão. Nunca fui de escrever para a morte, sobre a morte, nunca lhe tive medo, mas agora dou por mim a pedir-lhe que se distraia por uns tempos. Que ouça a gargalhada da Matilde e lhe deixe o tempo de quem lhe quer bem, junto dela, e de mim também.
Esse resto da vida que é tanto e nada quando se tem amor.
Tenho vivido o presente com uma espécie de saudade dos momentos que se vão consecutivamente. Talvez seja coisa da maternidade, das despedidas diárias: do andar que de repente é mais direito e não tão atabalhoadamente fofo, do gatinhar que foi sopro e memória, do vestido que já não serve, das expressões que deixam de ser de bébé...
E ao testemunhar o seu crescer, as despedidas diárias lembram-me que o tempo também molda aqueles que vieram antes de mim. Os meus pais, agora avós, caminham numa linha que um dia será a minha. De repente, olho para eles como olhava para os meus avós, e tenho dificuldade em aceitar isso. Como é que aconteceu? Como é que pisquei os olhos e estas pessoas que agarravam em nós à sexta-feira à noite para ir acampar em Melides, se transformaram em avós?
E isso coloca-me frente a frente com ela, a que tudo devora e transforma.
Sussurro-lhe:
Não tenho medo de ti, concede apenas mais tempo a quem veio antes de mim.
A morte, essa senhora de passos delicados, ronda, mas não entra. Conheço-a intimamente, como se já tivéssemos privado. Mas não lhe tenho medo. Tenho-lhe reverência. Sinto-a como um fogo ao longe, quente e intocável a lembrar-me que a urgência da vida é agora.
Há chama acesa que incendeia dentro, há vida a querer romper. Há sede, há fome, há dança que quer ser. Há chão a ser pisado, pés a querer caminhar.
A morte ronda, mas escolho a vida.
Amanhã faço 39 anos. E nunca senti tanta vida pulsar em mim. Olho com ternura a que fui mas, oh, como anseio a mulher que vive hoje em mim.
Dancemos.