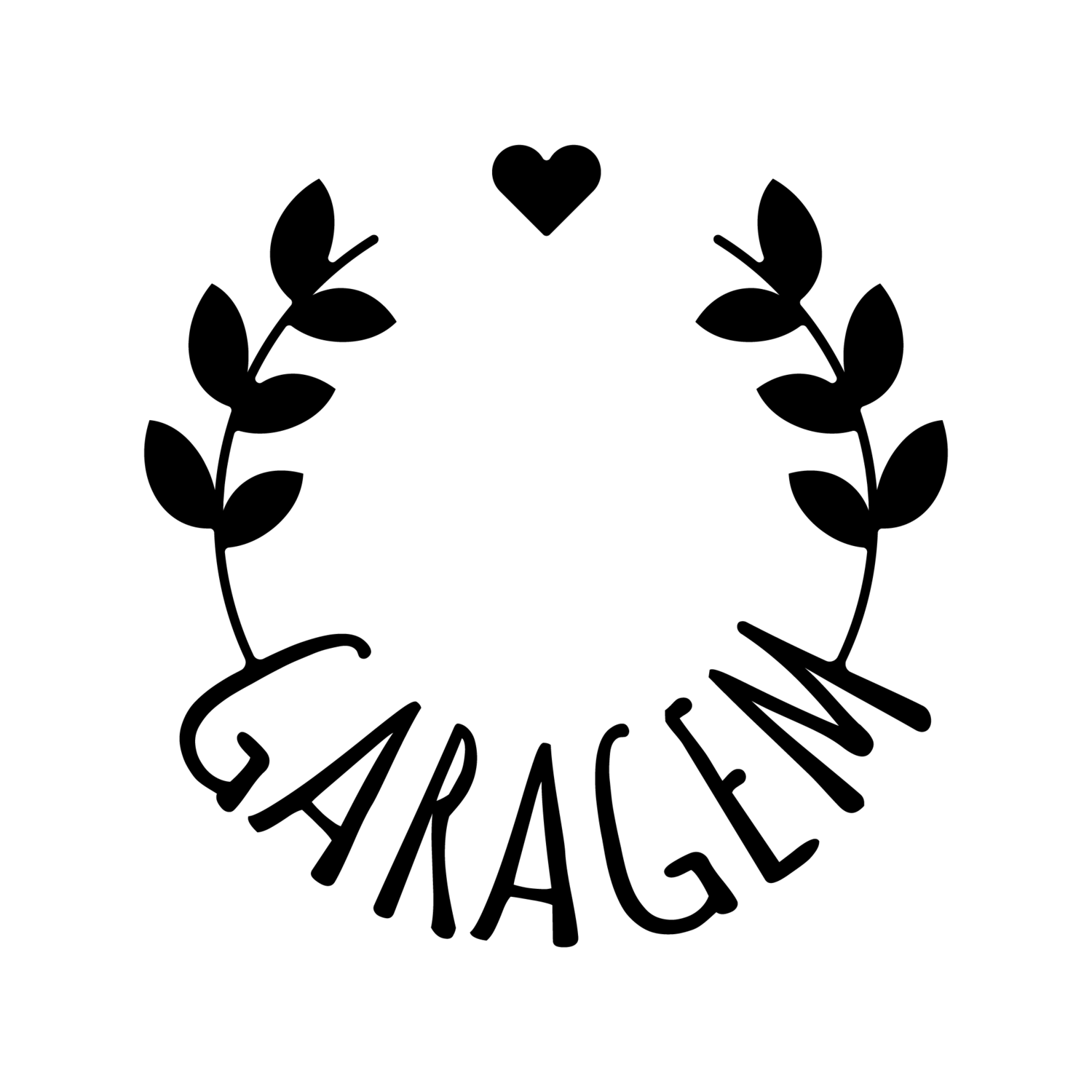E o destino de Myra é ser Myra, mesmo que Sónia, Sophia, Maria Flor, Helena... ou Ekaterina, Kate, Catarina. Por mais máscaras ou barreiras defensivas.
Myra, dikhotomía. Tão frágil e tão forte. Tão criança e tão mulher.
Todo o romance se desenrola debaixo de um mau augúrio, «O céu estava baixo e muito escuro. Havia estrias roxas e verdes na distância mais clareada do horizonte e pareciam, céu e mar, uma única onda a levantar-se para cobrir a terra. Myra tirou os sapatos e as meias rotas e ficou parada a ver aquele assombro. Se corresse por ali adentro ninguém daria com ela nunca mais, nem no país dali, nem em nenhum outro.», como se uma tempestade tivesse prestes a rebentar sobre as nossas cabeças.
Uma ansiedade, um quase medo, o antecipar de algo terrível por vir. É assim que Maria Velho da Costa nos faz sentir até ao último parágrafo. Myra e o seu cão, A desgraçada e a besta. Duas criaturas que se amam e se protegem contra a vida madrasta, destinada.
Um livro que nos coloca sempre entre duas margens, O bem e o mal. A vida e a morte. Um livro cru, um lado negro do ser humano. Um lado real. Um desmoronar de todas as ilusões.
O mundo que habitamos com a gente que o coabita ao nosso lado. Tão perto e tão longe.
«Há sempre mais maus que os maus, Ivan. Mais terríveis do que os terríveis.»
O desfecho é o desfecho possível. É o suspiro e a constatação. Faríamos o mesmo.
Um murro no estômago ou um aperto na garganta. Uma angústia que nos acompanha para lá da leitura.
«Mira»
Maria Velho da Costa,
Assírio & Alvim